“Bob Dylan reescreveu a gramática do rock assim como James Joyce reescreveu as regras do romance. Ele é o único autor de rock a quem o termo poeta pode ser rigorosamente aplicado. É o maior e mais invulgar talento da música rock. O que os Beatles fizeram, em conjunto, pelo rock, ele fez sozinho.” (Jeremy Pascall, em The Illustrated History of Rock Music, Londres, 1977.)
Ele está fazendo 40 anos (no dia 24 de maio de 1981). Bob Dylan, o porta-voz de uma geração, o príncipe do protesto, o poeta da música pop, o profeta do rock, a grande maravilha branca, a fonte da inteligência do rock, o João Batista, o Messias, o Cristo.
(Todos esses apostos foram usados, sem qualquer parcimônia, por livros, jornais e revistas do mundo inteiro, ao lado do seu nome.)
Existe um Bob Dylan?
 Existem pelo menos 19 livros sobre Bob Dylan já publicados (e seguramente vários outros estão para ser publicados, ou sendo escritos), desde uma obra sobre o ambiente em que foi criado, em Hibbing, Minnesota, até um estudo interpretativo das letras de suas músicas, feito com base nos valores da religião judaica. Fora milhares de artigos, esparsos em diversas revistas americanas, inglesas, australianas. Fora incontáveis trabalhos de estudantes universitários. Os elogios, as frases de efeito e os adjetivos usados para sua obra tomariam todo um volume, como disse Jeremy Pascall em sua história do rock.
Existem pelo menos 19 livros sobre Bob Dylan já publicados (e seguramente vários outros estão para ser publicados, ou sendo escritos), desde uma obra sobre o ambiente em que foi criado, em Hibbing, Minnesota, até um estudo interpretativo das letras de suas músicas, feito com base nos valores da religião judaica. Fora milhares de artigos, esparsos em diversas revistas americanas, inglesas, australianas. Fora incontáveis trabalhos de estudantes universitários. Os elogios, as frases de efeito e os adjetivos usados para sua obra tomariam todo um volume, como disse Jeremy Pascall em sua história do rock.
“Talvez nenhum músico americano tenha produzido mais ou influenciado tantos outros”, disse Alan Rinzler no seu livro Bob Dylan, the Illustrated Record (Nova York, 1978). “Bob Dylan foi a figura mais influente no mundo da música popular nas duas últimas décadas. Ele teve uma importante influência no trabalho da maioria dos grandes músicos da nossa era”, disseram Stuart Hoggard e Jim Shields no seu livro Bob Dylan, an Illustrated Discographhy (Dumbarton, Escócia, 1977). “As palavras de Bob Dylan foram mais estudadas, analisadas, interpretadas e discutidas do que as de qualquer outro artista”, diz a introdução do livro Bob Dylan in his Own Words (Londres, 1978).
Bob Dylan não existe.
Melhor seria dizer que existem três, quatro, cinco, vários, alguns milhões de Bob Dylans.
 Existe o Bob Dylan rebelde, ativista, panfletário, o das “canções de protesto” (e, engraçado, embora este Bob Dylan tenha já quase 20 anos de idade, é dele que muita gente se lembra mais, principalmente as pessoas que não conhecem bem os diversos Bob Dylans). Existe o Bob Dylan lírico, introspectivo. Existe o Bob Dylan louco, visionário, drogado, felliniano, o das longas narrativas surrealistas, de poemas de imagens tortuosas, complexas. Existe o Bob Dylan que inspirou um grupo terrorista. Existe o Bob Dylan que Jimmy Carter gostava de citar. Existe – assim como existiu o Bob Dylan que pregava a rebeldia dos filhos – o Bob Dylan sossegado pai da família. Existe o Bob Dylan judeu – e não apenas judeu filho de pais judeus, mas adepto do judaísmo, visitante de Israel, orador diante do Muro das Lamentações. Existe o Bob Dylan cristão – e, mais que cristão, cristão atuante, apóstolo, evangelizador, proselitista de sua fé.
Existe o Bob Dylan rebelde, ativista, panfletário, o das “canções de protesto” (e, engraçado, embora este Bob Dylan tenha já quase 20 anos de idade, é dele que muita gente se lembra mais, principalmente as pessoas que não conhecem bem os diversos Bob Dylans). Existe o Bob Dylan lírico, introspectivo. Existe o Bob Dylan louco, visionário, drogado, felliniano, o das longas narrativas surrealistas, de poemas de imagens tortuosas, complexas. Existe o Bob Dylan que inspirou um grupo terrorista. Existe o Bob Dylan que Jimmy Carter gostava de citar. Existe – assim como existiu o Bob Dylan que pregava a rebeldia dos filhos – o Bob Dylan sossegado pai da família. Existe o Bob Dylan judeu – e não apenas judeu filho de pais judeus, mas adepto do judaísmo, visitante de Israel, orador diante do Muro das Lamentações. Existe o Bob Dylan cristão – e, mais que cristão, cristão atuante, apóstolo, evangelizador, proselitista de sua fé.
Ele faz 40 anos, entra na quinta década de sua vida, a terceira como um dos maiores fenômenos da comunicação de massas do nosso tempo. Certamente virão ainda outros Bob Dylans se juntar aos tantos que já existiram ou existem. Talvez falando de astrologia, de comida macrobiótica, quem sabe do culto do físico, quem sabe de qualquer outra coisa mais inesperada. “O mínimo que se deve esperar de Dylan é, como sempre, o inesperado”, disse o jornalista José Nêumanne Pinto, do Jornal do Brasil.
“São muito poucas as portas onde eu não bati”, disse recentemente o Bob Dylan cristão.
Seria ele, talvez, um artista constantemente mudando de um modismo para outro, a fim de se manter na onda, nas páginas dos jornais, na ordem do dia?
 Quem quiser pensar assim tem todo o direito, por que não? É justamente por isso que se disse, aqui, que existem milhões de Bob Dylans. Cada pessoa vê nas suas músicas, na sua obra, na sua vida, um sentido, uma mensagem. “Cada pessoa que compra um disco de Bob Dylan forma uma opinião sobre o que o homem está dizendo, uma opinião em geral totalmente diferente da de qualquer outro ouvinte”, lembram Hoggard e Shields, no livro Discography. Assim, quem quiser achar que Bob Dylan muda sempre apenas para se manter em voga, que ache. Só não se diga que ele vai atrás de modismos. Isso seria um absurdo.
Quem quiser pensar assim tem todo o direito, por que não? É justamente por isso que se disse, aqui, que existem milhões de Bob Dylans. Cada pessoa vê nas suas músicas, na sua obra, na sua vida, um sentido, uma mensagem. “Cada pessoa que compra um disco de Bob Dylan forma uma opinião sobre o que o homem está dizendo, uma opinião em geral totalmente diferente da de qualquer outro ouvinte”, lembram Hoggard e Shields, no livro Discography. Assim, quem quiser achar que Bob Dylan muda sempre apenas para se manter em voga, que ache. Só não se diga que ele vai atrás de modismos. Isso seria um absurdo.
Dylan vai na frente das coisas; é um pioneiro, um desbravador. E não poucas vezes, nestes 21 anos de carreira, ele foi justamente contra a maré da moda, contra o já aceito, contra o estabelecido. Sem nenhum medo de chocar, de assustar, de causar espanto e até mesmo ódio, indignação, das platéias. Esta é, justamente, uma de suas principais características. E, possivelmente, a característica comum a todos os Bob Dylans que já se conheceram, o traço de união, o fio da meada que permite, talvez, uma compreensão de quem é este homem e este artista em constante mutação.
(Uma observação: ao longo deste post, estão as capas dos discos oficiais de Dylan, na ordem cronológica, até 1981, quando o texto foi escrito; só ficaram de fora, por questão de espaço, duas coletâneas, Greatest Hits, de 1967, e Greatest Hits, Vol. 2, de 1971. Os discos posteriores a 1981 serão citados em outros textos que virão aí neste site.)
Um meninote mentiroso
O primeiro Bob Dylan de que o mundo ouviu falar, em 1961, era um meninote mentiroso.
“Hibbing é uma cidade bem boazinha. Fugi dela quando eu tinha 10, 12, 13, 15, 15 e meio, 17 e 18 anos. Me procuraram e me trouxeram de volta todas as vezes, menos a última”, escreveu ele , em 1962, em um poema que não musicou. A mesma coisa ele repetiu para diversos repórteres que o entrevistaram naquela época. A mesma coisa, e muito mais, ele contou para as pessoas que conheceu primeiro em Minneapolis, capital de Minnesota, o Estado em que nasceu e cresceu, e onde passou um ano matriculado na escola de artes da universidade local, e depois em Nova York, onde chegou em janeiro de 1961, aos 19 anos de idade.
Ele dizia ter fugido de casa diversas vezes. Andado pelo país afora, de costa a costa, do Sul ao Norte. Trabalhado nos mais diversos lugares, nas mais diferentes ocupações. Conhecido diversos tipos de pessoas. E, sim, tocado e cantado com alguns dos maiores mitos da música folk, pelo interior do país, em circos, em pequenos bares.
 Tudo mentira. (Só que muita gente acreditou. Na década de 60, a imprensa – inclusive a brasileira – publicou todas essas histórias fantásticas.)
Tudo mentira. (Só que muita gente acreditou. Na década de 60, a imprensa – inclusive a brasileira – publicou todas essas histórias fantásticas.)
A verdade era menos charmosa. A verdade era simples, rotineira. Ele foi o primeiro dos dois filhos de um casal burguês, pai comerciante, dono de loja, mãe dona-de-casa. Fez primário, secundário, tudo direitinho, tudo dentro das normas, nada romântico, nada glamourizado. Papai pagou sua ida para Minneapolis, quando ele terminou o secundário, para que estudasse artes na capital do Estado. Papai, aliás, deu também algum dinheiro para que ele fosse para Nova York, tentar a vida.
Não era só charme, glamour, que as mentiras do meninote buscavam. Elas buscavam, também, esconder a origem de uma pessoa que se chamava Robert Allen Zimmerman, filho de um homem chamado Abraham.
Não é difícil perceber que Dylan tinha vergonha de ser judeu, em um país racista como o seu. Os fatos são óbvios. Por exemplo: entre suas mentiras adolescentes, ele dizia ter aquele nariz claramente judeu por causa de um tio sioux. E ainda: no início, ele jamais aceitou seu próprio nome; quando chegou a Minneapolis, já se apresentou como Bob Dylan – e não como Zimmerman. Já em 1962, pouco depois de fazer 21 anos, trocou seu nome oficialmente por Bob Dylan. O nome possivelmente foi inspirado por Dylan Thomas, o poeta galês – embora Dylan sempre tenha negado isso.
Um cantor folk
Em três anos, o rapazinho mentiroso iria mudar a música do país e do mundo.
O senador Joseph McCarhy havia morrido em l957. Na segunda metade da década de 50, senão o país todo, pelo menos o meio artístico e intelectual americano respirava aliviado o ar mais saudável pós-caça às bruxas. Já se podiam fazer comentários críticos sem risco de ser tachado de anti-americano, comunista. Gente como Pete Seeger e seu conjunto Weavers podia, de novo, cantar nos teatros, nas rádios, de onde haviam sido banidos pelo macarthismo. Foi nessa época – últimos anos da década de 50, início dos anos 60 – que a música folk invadiu as cidades norte-americanas. Ou, pelo menos, os ambientes universitários, os bairros boêmios ou intelectuais, a juventude mais interessada e participante.
 Foi nessa época, por volta de 1958, que ainda, em Minnesota, o adolescente Bob Dylan, até então ouvinte de Little Richard, Chuck Berry e Elvis Presley, vendeu sua guitarra elétrica e seu amplificador e comprou um violão. Abandonou o rock’n’roll e mergulhou na música folk.
Foi nessa época, por volta de 1958, que ainda, em Minnesota, o adolescente Bob Dylan, até então ouvinte de Little Richard, Chuck Berry e Elvis Presley, vendeu sua guitarra elétrica e seu amplificador e comprou um violão. Abandonou o rock’n’roll e mergulhou na música folk.
Milhares de jovens, certamente, estavam fazendo a mesma opção, naqueles anos. Era o boom, a explosão, o “renascimento” da música folk (o termo é contestado por estudiosos, com o argumento de que ela jamais havia morrido; sempre estivera viva, só que basicamente no interior, onde as tradições permanecem mais puras). Folk – a música popular predominantemente branca do interior, mais do meio rural, a música folclórica herdada dos antepassados ingleses e irlandeses, a música tradicional passada oralmente de geração a geração. A música que um gênio chamado Woody Guthrie, nascido em uma cidadezinha rural de Oklahoma, em 1912, reproduziu, recriou e difundiu por praticamente todos os cantos do país, ao cantar e fazer política junto a sindicatos de mineiros, pequenos agricultores, operários.
Guthrie foi um dos principais responsáveis pela difusão dessa música entre os jovens de classe média urbana do país. E era em torno de Guthrie – já no início da década de 60 internado em um hospital, desenganado, com uma doença degenerativa do sistema nervoso – que gravitavam, em Nova York, alguns dos mais importantes intérpretes da música folk e criadores de música nos moldes da tradição folk, como Pete Seeger, Cisco Houston, Rambling’ Jack Elliot (todos companheiros de Guthrie em suas antigas andanças), assim como uma nova geração de aprendizes, como Joan Baez, Peter La Farge, Richard Farina, Phil Ochs.
Foi imitando Woody Guthrie – no repertório, no estilo de tocar o violão, na forma de tocar a gaita, sempre presa a um suporte junto à boca, na voz anasalada, fanhosa, meio rouca – que Bob Dylan chegou a Nova York, tornou-se conhecido nos bares do Greenwich Village, conseguiu o contrato com a Columbia, e gravou o seu primeiro disco. Das 13 músicas do LP Bob Dylan a maioria é puro folk, muitas delas tradicionais, de domínio público. Duas apenas são composições de Dylan: uma, um talking blue, mais falada do que cantada, bem ao estilo de Guthrie, “Talkin’ New York”; e outra, “Song to Woody”, uma declaração de amor e respeito a seu mestre e ídolo.
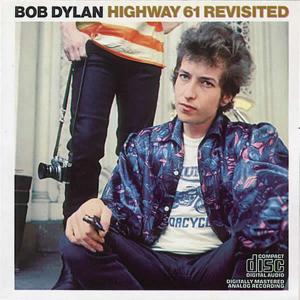 Guthrie, a quem Dylan ia constantemente visitar no hospital, gostou do discípulo: “menino talentoso”, disse ele. Joan Baez, que havia gravado seu primeiro disco em 1960, e rapidamente tornou-se respeitada e conhecidíssima (em 1962, ano em que saiu Bob Dylan, ela já havia sido capa da revista Time), ouviu-o tocar no Village e também gostou. O crítico Robert Shelton, do New York Times, também não economizou elogios.
Guthrie, a quem Dylan ia constantemente visitar no hospital, gostou do discípulo: “menino talentoso”, disse ele. Joan Baez, que havia gravado seu primeiro disco em 1960, e rapidamente tornou-se respeitada e conhecidíssima (em 1962, ano em que saiu Bob Dylan, ela já havia sido capa da revista Time), ouviu-o tocar no Village e também gostou. O crítico Robert Shelton, do New York Times, também não economizou elogios.
O disco vendeu, nos primeiros 12 meses após o lançamento, cinco mil cópias. Um fracasso.
O grande salto viria logo em seguida, no mesmo ano de 1962. Entre várias belas canções, Bob Dylan escreveria o hino de uma geração e de um movimento.
Protesto
O crítico Irwin Silber observou que, durante 50 anos – até o início da década de 60 –, as canções populares, essas que tocam no rádio, não disseram absolutamente nada a respeito da vida das pessoas; repetiram, à exaustão, fórmulas prontas, vazias, eu te amo, você me ama, eu te amo, você não me ama mais, estou tão triste. “É precisamente porque nossa canção popular tem tido pouco contato com a vida real – escreveu Silber, em 1965 – que a recente explosão das ‘canções do momento’ têm causado tanta comoção.”
“Canção do momento” é uma tentativa aproximada de tradução da expressão topical song – ou seja, músicas que falam de temas atuais, coisas que estão acontecendo à nossa volta, problemas do momento. Algo que a imprensa preferiu divulgar pelo rótulo mais simplista, estreito, meio pejorativo, de canção de protesto.
 Usando a linguagem folk, já no início do século, o imigrante sueco Joe Hill escrevera topical songs, falando, basicamente, do tema daquele momento: a necessidade de os operários se sindicalizarem, se unirem para lutar pelas conquistas sociais. Nos anos 30 e 40, Woody Guthrie cantou a miséria da Depressão, as injustiças, o sofrimento dos colonos migrantes. Naquele início dos anos 60, os temas do momento eram a corrida armamentista, o perigo (então iminente para o jovem americano) do conflito nuclear, a lutas pelos Direitos Civis, pela igualdade racial.
Usando a linguagem folk, já no início do século, o imigrante sueco Joe Hill escrevera topical songs, falando, basicamente, do tema daquele momento: a necessidade de os operários se sindicalizarem, se unirem para lutar pelas conquistas sociais. Nos anos 30 e 40, Woody Guthrie cantou a miséria da Depressão, as injustiças, o sofrimento dos colonos migrantes. Naquele início dos anos 60, os temas do momento eram a corrida armamentista, o perigo (então iminente para o jovem americano) do conflito nuclear, a lutas pelos Direitos Civis, pela igualdade racial.
Foi aqui que Bob Dylan estourou.
The Freewheelin’ Bob Dylan, lançado em maio de 1963, vendeu 120 mil cópias, em 12 meses (lembrando: o primeiro havia vendido cinco mil). O compacto de Peter, Paul and Mary com a música “Blowin’ in the wind” – o hino da geração – vendeu 320 mil exemplares em oito dias. ‘Blowin’in the wind” – escreveu Alan Rinzler no seu livro Bob Dylan, the Illustrated Record – resistiu ao teste do tempo. Não é uma canção para um período ou para uma geração específica, e sim para todos os tempos e para cada geração. É universal. O efeito de cantá-la, sozinho ou em grupo, é tão espiritualmente catártico que é como cantar do Eclesiastes. É bíblico”.
É o que cada um quiser. É sobretudo belo – uma frase musical simples que se repete enquanto se fazem novas perguntas, intemporais, sobre justiça, compreensão, solidariedade – respondidas apenas pelo refrão: “A resposta, meu amigo, está soprando no vento”.
Nas outras 12 músicas do disco, 11 de sua autoria, Dylan, então com 22 anos, fala da indústria da guerra, do holocausto nuclear, de preconceito racial e de amor. Fala de amor ora com ternura (“Girl from the North Country”), ora com sarcasmo, ironia, desilusão (“Don’t think twice, it’s all right”). E fala, sempre, com força, garra, vontade, sentimento – nada a ver com os sucessos pré-fabricados de que falava o crítico Irwin Silber. Usa sua experiência pessoal – mas produz uma obra universal.
 A musa que inspirou “Don’t think twice, it’s all right” e diversas outras músicas que Dylan ainda iria gravar aparece na capa deste segundo LP, abraçada a ele, em uma rua coberta de neve do Greenwich Village. Chama-se Suze Rotolo e pouco se sabe a respeito dela, a não ser que era muito bonita; conheceram-se no Village, já em 1961 (ela estava então com 17 anos). Chegaram a viver algum tempo juntos, em um apartamento da 4th Street. No começo de 1964 ela sumiria de cena, sem deixar qualquer rastro. Fora sua presença constante nas fotos daqueles primeiros anos, ao lado do namorado, e nas músicas (nas quais o compositor fala dela ora com devoção e respeito, ora com intensa raiva), não se encontram registros sobre ela, nas diversas obras disponíveis a respeito de Dylan.
A musa que inspirou “Don’t think twice, it’s all right” e diversas outras músicas que Dylan ainda iria gravar aparece na capa deste segundo LP, abraçada a ele, em uma rua coberta de neve do Greenwich Village. Chama-se Suze Rotolo e pouco se sabe a respeito dela, a não ser que era muito bonita; conheceram-se no Village, já em 1961 (ela estava então com 17 anos). Chegaram a viver algum tempo juntos, em um apartamento da 4th Street. No começo de 1964 ela sumiria de cena, sem deixar qualquer rastro. Fora sua presença constante nas fotos daqueles primeiros anos, ao lado do namorado, e nas músicas (nas quais o compositor fala dela ora com devoção e respeito, ora com intensa raiva), não se encontram registros sobre ela, nas diversas obras disponíveis a respeito de Dylan.
Esta, aliás, é outra característica comum a todas as fases da vida de Dylan: ele sempre procurou preservar do público, guardada a sete chaves, sua vida particular. Jamais falou sobre ela nas entrevistas que deu (jamais disse muito nas entrevistas, para se falar a verdade). Jamais permitiu que seus amigos, produtores, gerentes, dissessem qualquer coisa sobre sua vida privada. Assim como pouquíssima coisa se sabe sobre Suze Rotolo, quase nada se sabe sobre a longa relação com Joan Baez, nem sobre os 11 anos e pouco de casamento com Sara Lowndes. Assim como muito pouco se sabe, ao certo, sobre um outro importante relacionamento de Dylan, e que iria influenciá-lo em parte de sua obra: o relacionamento com as drogas.
Contra a maré
No terceiro LP, lançado em janeiro de 1964, há duas músicas de amor, uma claramente inspirada por Suze Rotolo que, meses antes, havia resolvido interromper o romance e fazer uma viagem à Europa. Chama-se “Boots of Spanish Leather”, e é um sutilmente irônico e amargurado diálogo entre dois amantes, ela querendo comprar-lhe um belo presente nas terras que vai visitar, ele apenas interessado no amor por ela.
São exceções. O resto do disco é essencialmente político, a partir do título, The Times they are changin’, os tempos estão mudando. A faixa título é um sermão panfletário: “mães e pais de todo o país, não critiquem o que vocês não conseguem entender. Seus filhos e filhas estão além do seu comando. A antiga estrada de vocês está ficando velha depressa. Saiam da nova, se não conseguem ajudar em nada, porque os tempos estão mudando”. Há três músicas calcadas em fatos reais: a história de um colono pobre que, desesperado, mata a mulher, os cinco filhos e a si próprio (“The ballad of Hollis Brown”); a história de um moço rico que, sem razão aparente, assassina uma cozinheira negra – e o que é pior, diz Dylan, é condenado a apenas seis meses de prisão (“The lonesome death of Hattie Carrol”); a história da morte de Medgar Evers, líder negro assassinado no Sul (“Only a pawn in their game”). E há mais: há “With God on Our Side”, uma longa narrativa (83 versos) das lutas e das guerras de que os Estados Unidos participaram, sempre com a certeza de que estavam com Deus (a razão, a justiça) do seu lado.
 Quando o disco saiu, Dylan já era reconhecido, em todo o país, como o mais brilhante compositor da nova geração descendente do folk. Suas músicas eram cantadas nas manifestações pelos direitos civis, nas passeatas que pediam igualdade para os negros. Na famosa marcha sobre Washington, em agosto de 1963, ao fim da qual o reverendo Martin Luther King disse à multidão de 200 mil pessoas que tinha um sonho – o sonho de uma sociedade melhor – lá estava Bob Dylan, participando, cantando, fazendo a multidão cantar, ao lado de Joan Baez, Peter, Paul and Mary, Odetta, Mahalia Jackson. Percorreu todo o país dando concertos – sozinho ou ao lado de Pete Seeger, ao lado de Joan Baez, “a rainha do folk”, como a chamavam. Era o príncipe. Era o porta-voz das angústias, das esperanças, da luta de uma geração, como diziam os jornais.
Quando o disco saiu, Dylan já era reconhecido, em todo o país, como o mais brilhante compositor da nova geração descendente do folk. Suas músicas eram cantadas nas manifestações pelos direitos civis, nas passeatas que pediam igualdade para os negros. Na famosa marcha sobre Washington, em agosto de 1963, ao fim da qual o reverendo Martin Luther King disse à multidão de 200 mil pessoas que tinha um sonho – o sonho de uma sociedade melhor – lá estava Bob Dylan, participando, cantando, fazendo a multidão cantar, ao lado de Joan Baez, Peter, Paul and Mary, Odetta, Mahalia Jackson. Percorreu todo o país dando concertos – sozinho ou ao lado de Pete Seeger, ao lado de Joan Baez, “a rainha do folk”, como a chamavam. Era o príncipe. Era o porta-voz das angústias, das esperanças, da luta de uma geração, como diziam os jornais.
E já em 1964, apenas alguns meses depois do lançamento de seu LP mais político, mais protesto, mais porta-voz, Bob Dylan iria, pela primeira de muitas vezes, remar contra a maré. Em pleno apogeu das marchas, das manifestações, do protesto, ele reapareceu, no seu quarto LP, lançado em agosto de 1964, intimista, confessional, lírico, falando quase exclusivamente de amor. O disco, assim como tantos outros, tem um título claro, límpido: Another side of Bob Dylan. Outro lado. Não o que estava dando mais e mais ibope. Outro, inesperado, contrário.
Na última música desse disco, por exemplo, “It ain’t me, Babe”, Dylan diz (à mulher amada? ou a seu público, ao mundo?) que ele não é aquilo que se espera dele: “Não sou a pessoa que você quer, só vou deixar você deprimida. Você diz que procura alguém que prometa jamais partir, alguém que feche os olhos por você, alguém que feche o coração, alguém que morra por você, talvez mais que isso. Mas não sou eu. Não, não, não, não sou eu”. “Uma declaração de liberdade”, “uma espécie de declaração de independência existencial”, diriam os estudiosos de Dylan, no final dos anos 70.
Vaias para o novo
 O rompimento mais profundo viria no ano seguinte ao desse quarto disco, 1965.
O rompimento mais profundo viria no ano seguinte ao desse quarto disco, 1965.
Bob Dylan, a maior revelação da música folk, o cantor de protesto, iria aparecer no altar mais sagrado do folk e do engajamento político, o festival anual de Newport (onde havia sido entusiasticamente aplaudido em 1963 e 1964)… tocando guitarra elétrica! Acompanhado por músicos com instrumentos elétricos!
Pela primeira vez na vida, foi vaiado.
Um mês depois, em agosto de 1965, ele seria vaiado de novo, desta vez por 14 mil pessoas que lotaram um estádio de tênis, o Forest Hills Stadium, em Nova York, para vê-lo.
Quando uma platéia de três mil pessoas vaiou Caetano Veloso no Tuca, em São Paulo, o compositor ficou decepcionado, amargurado e nervoso – e reagiu agredindo a platéia com um histórico, mas irado discurso. Naquela noite em que Bob Dylan foi vaiado por um estádio lotado, não houve discurso: Dylan esperava as vaias. Nos bastidores, ele avisou os músicos que o acompanhariam: tudo poderia acontecer, mas eles não deveriam parar de tocar, o importante era tocar boa música.
Entre urros, milhares de pessoas gritavam coisas como “Traidor!”, “Queremos Dylan”. E vaiavam. Queriam – como as três mil pessoas do Tuca, em setembro de 1968 – o velho, o conhecido, o aceito, o estabelecido.
E Dylan tinha o novo para dar.
 Não era um gênero musical novo, aquele que Dylan apresentou nos discos Bringing it all back home (março de 1965) e Highway 61 Revisited (agosto de 1965), e depois em Blonde on Blonde (maio de 1966). Era rock – e rock já se fazia, desde a década de 50; e o rock, naquela época, estava invadindo o país que o criou, vindo do outro lado do Atlântico, onde havia sido recriado pelos Beatles, pelos Rolling Stones, pelos Animals, e tantos outros grandes grupos.
Não era um gênero musical novo, aquele que Dylan apresentou nos discos Bringing it all back home (março de 1965) e Highway 61 Revisited (agosto de 1965), e depois em Blonde on Blonde (maio de 1966). Era rock – e rock já se fazia, desde a década de 50; e o rock, naquela época, estava invadindo o país que o criou, vindo do outro lado do Atlântico, onde havia sido recriado pelos Beatles, pelos Rolling Stones, pelos Animals, e tantos outros grandes grupos.
A novidade era que Dylan estava usando a linguagem do rock para fazer poesia.
Um crítico notou que, se Bob Dylan tivesse publicado seus versos sobre a guerra, sobre a ameaça nuclear, sobre as injustiças sociais, em um livro mimeografado, para ser distribuído entre universitários, ele teria atingido algumas centenas de pessoas; como ele cantou seus versos, acompanhado de seu violão e de sua gaita, as mesmas palavras atingiram centenas de milhares de pessoas.
Quando ele passou a cantar seus versos acompanhado de guitarras, baixo, bateria, fazendo rock, atingiu vários milhões de pessoas. Sim, porque, enquanto os adeptos do folk discutiam se era válido ou não Dylan tocar guitarra elétrica, enquanto as revistas dedicadas ao folk se enchiam de cartas e artigos indignados contra o sacrilégio, uma nova audiência passou a ser atingida pela música de Dylan. Milhões de jovens que mal conheciam seu nome antes passaram a comprar seus discos de rock – ou de folk-rock, como definiram alguns críticos. É óbvio que a linguagem do rock é muito mais popular, muito mais vendável que a do folk purista.
 E, enquanto alguns críticos mais apressados falavam que Dylan havia se vendido, se tornado comercial, abandonado O Movimento, etc, etc, outros eram capazes de entender que ele estava, simplesmente, infeccionando o insosso mercado pop, as monótonas programações de rádio, com o vírus da poesia. Dois acadêmicos, diplomados em Artes por boas escolas, David A. De Turk A. Poulin Jr., por exemplo, entenderam o processo, em seu livro The American Folk Scene: “Através das canções de protesto, a música folk tornou possível a existência de uma música popular que de fato trata de alguns dos nossos principais problemas, ou de algumas outras realidades que não são meras paixões de adolescentes”, disseram eles. Para, mais adiante, afirmar que as canções de Dylan desafiavam sua audiência, desafiavam “a lei da mediocridade que governa a cultura popular”, ao questionar uma série de posturas nacionais a respeito do homem e de seu relacionamento com os semelhantes.
E, enquanto alguns críticos mais apressados falavam que Dylan havia se vendido, se tornado comercial, abandonado O Movimento, etc, etc, outros eram capazes de entender que ele estava, simplesmente, infeccionando o insosso mercado pop, as monótonas programações de rádio, com o vírus da poesia. Dois acadêmicos, diplomados em Artes por boas escolas, David A. De Turk A. Poulin Jr., por exemplo, entenderam o processo, em seu livro The American Folk Scene: “Através das canções de protesto, a música folk tornou possível a existência de uma música popular que de fato trata de alguns dos nossos principais problemas, ou de algumas outras realidades que não são meras paixões de adolescentes”, disseram eles. Para, mais adiante, afirmar que as canções de Dylan desafiavam sua audiência, desafiavam “a lei da mediocridade que governa a cultura popular”, ao questionar uma série de posturas nacionais a respeito do homem e de seu relacionamento com os semelhantes.
Glória, reclusão
Durante vários meses, depois da nítida adesão ao rock, Dylan excursionou pelo país inteiro, cantando para novas (e gigantescas) audiências, e depois pelo mundo: Canadá, Austrália, Suécia, Dinamarca, França, Itália, Inglaterra. Era um superstar, aos 25 anos de idade, e a roda-viva violentíssima que o engolia talvez nem lhe permitisse ver exatamente qual o caminho que desejaria seguir, se é que desejava seguir algum. Muitas de suas músicas da época – 1965, 1966 – são sombrias, desesperadas, seus versos são cheios de metáforas complexas, imagens fragmentadas; falam de solidão, desespero, caos, drogas.
 A eterna ativista Joan Baez, que não mais o acompanhava em suas turnês, dizia que sua música era, então, destrutiva, desencorajadora, triste. “Fazer uma música como ‘Everybody must get stoned’ é exatamente o oposto de ajudar alguém”, disse ela, em 1966. (A tradução literal do título dessa música do LP Blonde on Blonde é “Todo mundo deve ser apedrejado”. Mas stoned, além de apedrejado, quer dizer drogado. E depois: “Ele não me parece ser um rapaz muito feliz”.
A eterna ativista Joan Baez, que não mais o acompanhava em suas turnês, dizia que sua música era, então, destrutiva, desencorajadora, triste. “Fazer uma música como ‘Everybody must get stoned’ é exatamente o oposto de ajudar alguém”, disse ela, em 1966. (A tradução literal do título dessa música do LP Blonde on Blonde é “Todo mundo deve ser apedrejado”. Mas stoned, além de apedrejado, quer dizer drogado. E depois: “Ele não me parece ser um rapaz muito feliz”.
Naqueles meses, dois dos antigos companheiros de Dylan nos primeiros tempos do Village, Peter La Farge e Paul Clayton, haviam se suicidado. Richard Farina, outro companheiro de geração, havia morrido em um acidente de moto. No dia 29 de julho de 1966, Dylan caiu da moto, e foi hospitalizado com feridas no rosto e o pescoço quebrado.
Por mais de um ano, depois do acidente, Dylan não apareceu sequer uma vez em lugar público. Ficou em uma casa alugada, em Woodstock, no interior rural do Estado de Nova York, com a mulher Sara, que conhecera no final de 64 e com quem se casara um ano depois. Descansava, passava dias sem fazer nada. (Segundo alguns, se desintoxicava das drogas que vinha tomando antes do acidente). As únicas pessoas admitidas em sua clausura eram o empresário Albert Grossman e os músicos que haviam tocado com ele em Newport e no Forest Hills Stadium, o conjunto chamado The Band. No porão da casa, com os amigos do conjunto, gravou diversas músicas em um gravador de rolo. Mas não levou as fitas para a gravadora lançar em disco.
Essas músicas só seriam lançadas oficialmente em 1975, em um álbum duplo chamado justamente The Basement Tapes; e foi a demora em lançá-las, e a avidez do público por Bob Dylan, segundo o livro Discography, que fez surgir os discos piratas. De fato, em pouco tempo o mercado se encheu de cópias em fita, ou mesmo cópias precariamente feitas em disco, das gravações realizadas no porão da casa de Woodstock.
 Dylan, aliás, é certamente o músico mais explorado pelo mercado dos discos piratas. O livro Discography relaciona nada menos que 95 LPs piratas de Bob Dylan (contra os 23 lançados legalmente que compõem a sua discografia – fora coletâneas e algumas participações especiais em discos de outros grupos ou artistas). São discos feitos a partir de gravações em fitas de concertos, espetáculos, apresentações em filmes ou na televisão. A qualidade de som, em geral, é péssima – não só por causa da pobreza do equipamento de gravação, muitas vezes um simples gravador cassete, como também por causa da prensagem, que, sendo ilegal e procurada pela polícia, não tem condições de ser muito esmerada. Mas vendem, porque, afinal, muitas vezes são documentos históricos. Algumas dessas gravações já estão até disponíveis em São Paulo.
Dylan, aliás, é certamente o músico mais explorado pelo mercado dos discos piratas. O livro Discography relaciona nada menos que 95 LPs piratas de Bob Dylan (contra os 23 lançados legalmente que compõem a sua discografia – fora coletâneas e algumas participações especiais em discos de outros grupos ou artistas). São discos feitos a partir de gravações em fitas de concertos, espetáculos, apresentações em filmes ou na televisão. A qualidade de som, em geral, é péssima – não só por causa da pobreza do equipamento de gravação, muitas vezes um simples gravador cassete, como também por causa da prensagem, que, sendo ilegal e procurada pela polícia, não tem condições de ser muito esmerada. Mas vendem, porque, afinal, muitas vezes são documentos históricos. Algumas dessas gravações já estão até disponíveis em São Paulo.
De volta. Suave
O primeiro disco (desses oficiais, pelos quais se pagam direitos autorais, etc) que Dylan gravou depois do acidente com a moto foi lançado em 1968. Chama-se John Wesley Harding e nele, mais uma vez, Dylan rema contra a maré.
O ano de 1967, aquele que ele passou recluso em Woodstock, foi o ano da psicodélia. Havia um grande interesse, em toda a imprensa mundial, pelo aparecimento de drogas como o LSD, e muitos artistas confessariam contatos com esse e outros alucinógenos. Era o ano da música “psicodélica” também: o rock estudado, refinado, complexo, cheio de truques de estúdio, de gravações superpostas, que os Beatles inauguraram com Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, e no qual foram seguidos por Their Satanic Majesties Request, dos Rolling Stones. Era a época da explosão de grupos como The Who, Greateful Dead, Jefferson Airplane.
E Bob Dylan reaparece, quase dois anos depois do lançamento do LP anterior, Blonde on Blonde, nada pesado, nada roqueiro, nada psicodélico – e sim suave, calmo, macio, tranqüilo. O acompanhamento é quase inteiramente acústico: violão, gaita, piano, baixo, bateria (suave, pacata). A voz também é diferente. Perdeu a rouquidão, está menos anasalada. Mais suave, mais macia. Não há mais letras longas, que ocupam faixas de 11 minutos (como “Desolation Row”) ou até um lado inteiro do disco (como “Sad-Eyed Lady of the Lowlands”), dos Lps anteriores. Não há mais, também, as imagens complexas, tortuosas. As canções são baladas, os versos são parábolas, falando de solidariedade, amor pelas pessoas, responsabilidade social para com a sociedade.
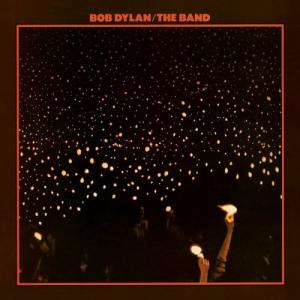 Poucos dias depois do lançamento de John Wesley Harding (era janeiro de 68), Dylan apareceu para cantar em público pela primeira vez desde o acidente, quase dois anos antes. Apareceu justamente para uma platéia folk, que lotava o Carnegie Hall, em Nova York, para um concerto em homenagem a Woody Guthrie, morto em outubro de 1967. Lá estavam, no palco, os grandes nomes da música folk – Pete Seeger, Odetta, Judy Collins, Tom Paxton, Arlo, o filho de Guthrie. Dylan cantou algumas músicas do velho mestre – com o acompanhamento elétrico de The Band. Não houve vaia. Foi aplaudido com respeito e admiração.
Poucos dias depois do lançamento de John Wesley Harding (era janeiro de 68), Dylan apareceu para cantar em público pela primeira vez desde o acidente, quase dois anos antes. Apareceu justamente para uma platéia folk, que lotava o Carnegie Hall, em Nova York, para um concerto em homenagem a Woody Guthrie, morto em outubro de 1967. Lá estavam, no palco, os grandes nomes da música folk – Pete Seeger, Odetta, Judy Collins, Tom Paxton, Arlo, o filho de Guthrie. Dylan cantou algumas músicas do velho mestre – com o acompanhamento elétrico de The Band. Não houve vaia. Foi aplaudido com respeito e admiração.
Ainda haveria algumas patrulhadas, algumas cobranças de maior envolvimento com a política. Um certo Allan J. Weberman, um fanático, iria perseguir Dylan pelas ruas, espionar sua casa, roubar o seu lixo, na tentativa de provar que o artista estava viciado em heroína. Autoproclamou-se “Ministro da Defesa da Frente de Libertação de Dylan”, promoveu manifestações diante da casa do compositor. Mas esse é louco, não importa. A própria Joan Baez, no entanto, em 1971 compôs e gravou uma música chamada “To Bobby”, em que dizia “O tempo é pouco e há trabalho para fazer. Nós continuamos marchando pelas ruas com poucas vitórias e grandes derrotas, mas há alegria, há esperança e há um lugar para você”.
Ela iria penitenciar-se, no entanto, em um belo disco de 1975, Diamonds & Rust. Em uma música chamada “Winds of the old days”, que ela escreveu quando soube que, pela primeira vez desde 1966, Dylan iria fazer uma turnê pelo país, Joan Baez diz ter lido “que o príncipe voltou ao palco”, e depois afirma: “Os anos 60 acabaram, deixem-no em paz. E, em seguida, dirigindo-se a ele: “E então muito obrigada por ter escrito as melhores canções; muito obrigada por ter consertado alguns erros”.
A turnê de Dylan pelo país, que Joan Baez cita em sua música, foi um estrondoso sucesso. A partir de janeiro de 1974, Dylan, acompanhado pela fiel The Band, cantou em 22 cidades importantes dos Estados Unidos, em 38 apresentações, sempre em grandes ginásios. Seis milhões de pessoas compraram ingressos antecipadamente para estas apresentações – e elas foram reproduzidas em uma série de discos piratas, e também em um álbum duplo oficial, chamado Before the Flood. Diante de platéias emocionadas, Dylan cantava sua produção mais recente e também seus antigos sucessos, desde a época de protesto – mas com uma roupagem nova, emocionante, forte, como se estivesse mastigando o sentido de cada palavra que dizia.
 Foi um ano de extraordinário sucesso, aquele de 1974, mais que qualquer outro, desde que ele saiu do seu período de reclusão, em 1968. Nestes anos todos, houve quem suspeitasse que a melhor fase de Dylan havia passado. Isso porque quando muita gente ainda esperava dele palavras de ordem, doutrinas, caminhos a seguir, Dylan preferia outros rumos. Em 1969, lançou Nashville Skyline, um disco de country, com melodias fáceis, letras falando de amor, arranjos alegres, leves, agradáveis. Em 1970, lançou Self Portrait, um álbum duplo com poucas obras novas, a maioria das músicas sucessos de outros autores. New Morning, também de 1970, foi elogiado pela crítica, vendeu bem, mas foi seguido por um silêncio de quase três anos, só rompido em outubro de 1973 por Pat Garred & Billy the Kid, a trilha que ele compôs para o bangue-bangue de Sam Peckinpach – belíssima, mas em geral recebida com muxoxos, na época.
Foi um ano de extraordinário sucesso, aquele de 1974, mais que qualquer outro, desde que ele saiu do seu período de reclusão, em 1968. Nestes anos todos, houve quem suspeitasse que a melhor fase de Dylan havia passado. Isso porque quando muita gente ainda esperava dele palavras de ordem, doutrinas, caminhos a seguir, Dylan preferia outros rumos. Em 1969, lançou Nashville Skyline, um disco de country, com melodias fáceis, letras falando de amor, arranjos alegres, leves, agradáveis. Em 1970, lançou Self Portrait, um álbum duplo com poucas obras novas, a maioria das músicas sucessos de outros autores. New Morning, também de 1970, foi elogiado pela crítica, vendeu bem, mas foi seguido por um silêncio de quase três anos, só rompido em outubro de 1973 por Pat Garred & Billy the Kid, a trilha que ele compôs para o bangue-bangue de Sam Peckinpach – belíssima, mas em geral recebida com muxoxos, na época.
Houve três apresentações memoráveis, apenas, entre o acidente com a moto em 1966 e a turnê pelo país em 1974: uma em agosto de 1969, durante um festival de música na ilha inglesa de Wight, diante de uma platéia de 300 mil pessoas (inclusive três Beatles, três Rolling Stones, e Caetano Veloso); Dylan cantou 17 músicas, durante exatos 60 minutos, e embolsou 84 mil dólares (hoje, uns sete milhões e meio de cruzeiros); e as outras duas no famoso concerto para Bangladesh, organizado pelo Beatle George Harrison, no gigantesco Madison Square Garden, o ginásio de esportes de Nova York, para recolher fundos para os refugiados de Bangladesh.
Sangue nas faixas
 Planet Waves, o disco lançado em janeiro de 1974, no início da turnê pelo país, foi, ao contrário de alguns de seus LPs do período, elogiadíssimo pela crítica. E vendeu como água: ficou três semanas no primeiro lugar de vendas, façanha que nenhum outro de seus LPs havia conseguido. Nele há pelo menos três obras-primas. “Forever young” é uma oração para uma criança, talvez um dos quatro filhos que Sara lhe deu (“Que Deus te abençoe sempre, que seus desejos todos se realizem, que você chegue às pessoas e deixe as pessoas chegarem a você. Que você crie uma escada até as suas estrelas e saiba subir cada degrau. Que suas mãos sempre trabalhem, que seus pés sejam sempre leves, que você tenha alicerces fortes quando vierem ventos de mudança. E que você seja eternamente jovem”). E ainda “Dirge”, uma melodia densa, pesada, e uma letra cruel, desesperançada (“Eu me odeio por te amar”), e, depois uma canção que é, ao contrário de “Dirge”, uma declaração de amor apaixonada, melosa, emocionante, quase patética, chamada “Wedding song”: “Nunca foi meu dever refazer o mundo, nem é minha intenção tocar a corneta de ataque. Eu te amo mais que tudo isso, com um amor que não se dobra. Se existe uma eternidade, eu vou te amar lá de novo”.
Planet Waves, o disco lançado em janeiro de 1974, no início da turnê pelo país, foi, ao contrário de alguns de seus LPs do período, elogiadíssimo pela crítica. E vendeu como água: ficou três semanas no primeiro lugar de vendas, façanha que nenhum outro de seus LPs havia conseguido. Nele há pelo menos três obras-primas. “Forever young” é uma oração para uma criança, talvez um dos quatro filhos que Sara lhe deu (“Que Deus te abençoe sempre, que seus desejos todos se realizem, que você chegue às pessoas e deixe as pessoas chegarem a você. Que você crie uma escada até as suas estrelas e saiba subir cada degrau. Que suas mãos sempre trabalhem, que seus pés sejam sempre leves, que você tenha alicerces fortes quando vierem ventos de mudança. E que você seja eternamente jovem”). E ainda “Dirge”, uma melodia densa, pesada, e uma letra cruel, desesperançada (“Eu me odeio por te amar”), e, depois uma canção que é, ao contrário de “Dirge”, uma declaração de amor apaixonada, melosa, emocionante, quase patética, chamada “Wedding song”: “Nunca foi meu dever refazer o mundo, nem é minha intenção tocar a corneta de ataque. Eu te amo mais que tudo isso, com um amor que não se dobra. Se existe uma eternidade, eu vou te amar lá de novo”.
Planet Waves e Before the flood, o álbum duplo gravado ao vivo durante a turnê norte-americana, são os dois únicos discos oficiais de Dylan fora da Columbia (no Brasil, CBS). Ele havia assinado um contrato com a Asylum Records, em 1974; no entanto, no auge do sucesso, com os dois discos vendendo milhões de cópias, ele voltaria a assinar contrato com a Columbia, obtendo diversas (e fabulosas) vantagens, inclusive um aumento do percentual de direitos autorais e a posse de todas as matrizes de suas gravações, cinco anos depois de elas serem feitas.
 (Por causa desses problemas contratuais, esses dois discos não são encontrados no Brasil; foram lançados aqui, mas saíram do catálogo; nem as lojas importadoras os recebem mais. Essa informação prescreveu; os dois discos hoje estão disponíveis, assim como todos os demais.)
(Por causa desses problemas contratuais, esses dois discos não são encontrados no Brasil; foram lançados aqui, mas saíram do catálogo; nem as lojas importadoras os recebem mais. Essa informação prescreveu; os dois discos hoje estão disponíveis, assim como todos os demais.)
Dylan voltava a produzir muito, e genialmente. Em janeiro de 1975, de novo pela Columbia, já lançava um novo disco, Blood on the Tracks. O título mais uma vez é óbvio, e talvez até meio piegas. Mas é o que o disco transmite: sangue nas faixas. São músicas de amor, mas de amor que chega ao fim, que acaba, de romances que se destroem, ou não conseguem prolongar-se. “Muita gente me diz que teve muito prazer ouvindo esse disco”, ele mesmo diria. “É difícil entender isso. Sabe? Quer dizer, alguém ter prazer com esse tipo de dor, entende?”
O casamento com Sara estava acabando.
Não se sabe como, nem exatamente por quê. Como já se disse aqui, ninguém sabe quase nada a respeito da vida particular de Dylan. O que se sabe é isto: o casamento estava acabando.
Sara deu a Dylan filhos, e, mais do que isso, salvou-lhe a vida, como ele mesmo diz em “Wedding song”. Deu-lhe a razão para escrever algumas das obras mais belas da música popular, como “Sad Eyed Lady of the Lowlands”, “Wedding song” e “Sara”, que sairia no LP Desire, de dezembro de 1975. Em “Sara” não há simbolismos, não há metáforas; há a expressão clara, dolorosa de uma paixão. Dylan lembra imagens do passado comum, os filhos brincando com baldinho na praia, ou uma tarde passada em um bar de Portugal diante de uma garrafa de rum. E, entremeando essas recordações, o refrão: “Sara, Sara”, com elogios, agradecimentos, e, ao fim, uma súplica: “Sara, Sara, doce anjo virgem, doce amor da minha vida. Sara, Sara, jóia radiante, esposa mística, amar você é a única coisa de que não vou me arrepender nunca. Sara, Sara, bela mulher, tão cara ao meu coração, você precisa perdoar minha indignidade. Sara, Sara, ninfa glamourosa, não me abandone nunca, nunca vá embora”.
 Sara apresentou o pedido de divórcio em março de 1977, baseado na alegação de que apanhava do marido; que ele a sujeitava, assim como aos seus cinco filhos (quatro do casamento com Dylan), a uma tensão física e emocional; que ela sentia medo do marido e de seus acessos de raiva; que ela vivia “grandemente perturbada” pelas suas atitudes e seu “bizarro estilo de vida”. Pedia que ele desocupasse a milionária casa que haviam construído em Malibu, na Califórnia; que ele lhe desse a custódia permanente dos filhos; que ele lhe passasse parte de suas propriedades em Nova York, East Hampton, Woodstock, Minnesota e Novo México; que ele lhe desse, ainda, participações nos direitos autorais de gravações, obras musicais e literárias. O divórcio foi concedido em junho do mesmo ano de 1977.
Sara apresentou o pedido de divórcio em março de 1977, baseado na alegação de que apanhava do marido; que ele a sujeitava, assim como aos seus cinco filhos (quatro do casamento com Dylan), a uma tensão física e emocional; que ela sentia medo do marido e de seus acessos de raiva; que ela vivia “grandemente perturbada” pelas suas atitudes e seu “bizarro estilo de vida”. Pedia que ele desocupasse a milionária casa que haviam construído em Malibu, na Califórnia; que ele lhe desse a custódia permanente dos filhos; que ele lhe passasse parte de suas propriedades em Nova York, East Hampton, Woodstock, Minnesota e Novo México; que ele lhe desse, ainda, participações nos direitos autorais de gravações, obras musicais e literárias. O divórcio foi concedido em junho do mesmo ano de 1977.
Desire, o LP em que ele cantou o amor desesperado por Sara, foi lançado em dezembro de 1975, e em apenas dois meses vendeu mais de um milhão de cópias (seu primeiro disco havia vendido – lembra-se? – cinco mil cópias em um ano). Mas o que mais importa não é a vendagem – afinal, naquele mesmo ano, bobagens como Carpenters e Bee Gees também venderam milhões de discos. Desire é um disco deslumbrante, o melhor de Dylan, segundo Alan Rinzler, autor do livro sobre seus discos. Musicalmente, é o mais perfeito, o mais brilhante, com a bela voz de Emmylou Harris colada à de Dylan, que está madura, forte, envolvente, emocionante. E há o violino estranho, meio cigano, de Scarlet Rivera sublinhando as melodias que fazem lembrar cantos judaicos. Há uma canção – “Hurricane” – mais violenta que todas as “canções de protesto” que Dylan compôs nos anos 60, sobre Rubin Carter, o Hurricane, um dos mais promissores pesos-médios do boxe americano da época, preso e condenado sob a acusação de um tríplice assassinato. Dylan garante que as testemunhas mentiram, dá o álibi que Hurricane apresentou e que “o júri branco” não considerou, denuncia o racismo do processo, investe contra a própria instituição do júri popular (“como pode a vida de um homem desses estar na palma da mão de alguns idiotas?”). Há “Joey”, bela crônica sobre outro personagem real, Joey Gallo, descendente de italianos, gângster, mafioso, “rei das ruas, criança brincalhona”. E há, além de outras, “Sara”.
 Desire foi gravado em diferentes ocasiões, durante “a turnê mais louca jamais realizada”, na definição de Hoggard e Shields, no livro Discography. A turnê teve o nome de Rolling Thunder Revue, e dela participaram, além de Dylan, Joan Baez (os dois voltavam a cantar juntos depois de dez anos de separação), Roger McGuinn I(ex-líder dos Byrds), Joni Mitchell, Jack Elliot, Arlo Guthrie, o poeta Allen Ginsberg, Phil Ochs, Scarlet Rivera, Richie Havens, Gordon Lightfoot, e muitos outros. Não havia programação fixa: os músicos e suas famílias viajavam pelo país, como membros de um circo. Chegavam a alguma cidade, decidiam tocar ali, e só então anunciavam um, dois ou três espetáculos para as próximas noites. Não havia contrato: quem quisesse sair da turnê e fazer alguma outra coisa, podia; se quisesse depois voltar, tudo bem.
Desire foi gravado em diferentes ocasiões, durante “a turnê mais louca jamais realizada”, na definição de Hoggard e Shields, no livro Discography. A turnê teve o nome de Rolling Thunder Revue, e dela participaram, além de Dylan, Joan Baez (os dois voltavam a cantar juntos depois de dez anos de separação), Roger McGuinn I(ex-líder dos Byrds), Joni Mitchell, Jack Elliot, Arlo Guthrie, o poeta Allen Ginsberg, Phil Ochs, Scarlet Rivera, Richie Havens, Gordon Lightfoot, e muitos outros. Não havia programação fixa: os músicos e suas famílias viajavam pelo país, como membros de um circo. Chegavam a alguma cidade, decidiam tocar ali, e só então anunciavam um, dois ou três espetáculos para as próximas noites. Não havia contrato: quem quisesse sair da turnê e fazer alguma outra coisa, podia; se quisesse depois voltar, tudo bem.
Pelos nomes dos que participaram da turnê maluca, pode-se ver que já não existia mais qualquer animosidade do pessoal da música folk para com Dylan: ele havia ido na frente, aberto um caminho e, como todo inovador, havia sido criticado; mas agora todos haviam seguido a rota que ele traçou.
Durante a turnê – que durou mais de um ano – Dylan rodou incontáveis metros de filmes, que resultaram num total de 400 horas de duração. Com o auxílio do cineasta Howard Alk, montou um filme chamado Renaldo & Clara, de quatro horas de projeção, que estreou em Nova York em 1978 debaixo de um vendaval de críticas e foi um fracasso absoluto. O filme – que chegou a ser exibido no Masp, sem legendas, a princípio com a sala lotada, e no final com meia dúzia de perseverantes gatos pingados – mistura cenas reais da turnê com diálogos criados por Dylan (em um deles, ele pergunta a Sara, diante de Joan Baez: “Você quer dizer o quê? Se eu a amo como amo você?”). Há no filme, aliás, vários Bob Dylans. Ele próprio faz o papel de um Renaldo, e outros atores fazem diversos papéis de Bob Dylan. Como se Dylan fizesse questão de dizer que tem várias personalidades.
 Depois do divórcio, em 1977, Dylan fez uma excursão ao Japão, em seguida outra à Inglaterra (seis apresentações no Earls Court, estádio com 15 mil lugares; os 90 mil ingressos foram vendidos em um dia), depois Holanda, Alemanha, França, Inglaterra de novo (uma única apresentação, em um aeroporto do condado de Surrey, para 200 mil pessoas). A imprensa chamou essa temporada de “Turnê Pensão Alimentícia”.
Depois do divórcio, em 1977, Dylan fez uma excursão ao Japão, em seguida outra à Inglaterra (seis apresentações no Earls Court, estádio com 15 mil lugares; os 90 mil ingressos foram vendidos em um dia), depois Holanda, Alemanha, França, Inglaterra de novo (uma única apresentação, em um aeroporto do condado de Surrey, para 200 mil pessoas). A imprensa chamou essa temporada de “Turnê Pensão Alimentícia”.
Há um registro oficial dessa turnê: o álbum duplo Bob Dylan at Budokan, gravado ao vivo no Japão, no início de 1978.
Servindo a Cristo
Em 1978, um ano depois que Sara saiu de sua vida, Jesus Cristo entrou.
O cristianismo de Dylan produziu já dois discos: Slow Train Coming (1979) e Saved (1980). Na capa de Slow Train Coming há duas cruzes. A capa de Saved mostra várias mãos voltadas para o alto, buscando alcançar outra mão que vem do alto, com um rastro de sangue. A primeira música de Slow Train Coming chama-se “Gotta serve somebody”. É de uma clareza absoluta: você pode ser isso ou aquilo, pobre ou rico, preto ou branco – mas “você tem que servir a alguém. Pode ser ao Diabo ou pode ser ao Senhor, mas você tem que servir a alguém”.
Todas as músicas dos dois discos falam de Cristo.
 “Eu passei por uma experiência de autêntico renascimento para o Cristianismo, se você quiser chamá-la assim” – disse ele a um repórter do Los Angeles Times, em 1980. Ele, que sempre detestou falar a repórteres. – “Trata-se de uma definição já meio gasta, mas é mais acessível às pessoas, algo com que elas transam bem. Aconteceu em 1978. Eu sempre soube que havia um Deus ou um criador do universo, um criador das montanhas e do mar, mas não tinha consciência de Jesus e de que estava relacionado ao Supremo Criador.”
“Eu passei por uma experiência de autêntico renascimento para o Cristianismo, se você quiser chamá-la assim” – disse ele a um repórter do Los Angeles Times, em 1980. Ele, que sempre detestou falar a repórteres. – “Trata-se de uma definição já meio gasta, mas é mais acessível às pessoas, algo com que elas transam bem. Aconteceu em 1978. Eu sempre soube que havia um Deus ou um criador do universo, um criador das montanhas e do mar, mas não tinha consciência de Jesus e de que estava relacionado ao Supremo Criador.”
Fez um curso de três meses sobre a Bíblia, numa igreja de Los Angeles. Não crê em qualquer solução política dos problemas do mundo:
“Quando passeio pelas cidades incluídas nas turnês, fico totalmente convencido de que as pessoas precisam ver Jesus Cristo. Basta ver o número de viciados, alcoólatras e neuróticos. Trata-se de manifestações de uma doença que pode ser curada num minuto. Mas o poder constituído não permite que isso aconteça. O poder constituído diz que a cura deve dar-se politicamente.”
Musicalmente, adaptou-se a uma linguagem apropriada para seus sermões. O judeu agora cristão tornou-se musicalmente negro, fazendo um som profundamente gospel, a música religiosa dos negros americanos, com vozes femininas bem ao estilo da música negra acompanhando, frisando sua mensagem.
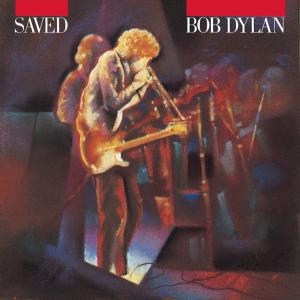 A crítica – ou, pelo menos, parte dela – arrasou seus dois últimos discos.
A crítica – ou, pelo menos, parte dela – arrasou seus dois últimos discos.
A crítica, no início dos anos 70, usou expressões como absurdo, raso, vazio, superficial, liquidado, arrasado, acabado, para definir Dylan e o seu trabalho de então. A crítica teve que engolir todas essas expressões, diante de trabalhos como Planet Waves, Blood on the Tracks, Desire.
“O mínimo que se deve esperar de Dylan é, como sempre, o inesperado”, disse, sabiamente, o crítico brasileiro.
Craig McGregor, o crítico australiano autor de muitos livros sobre Dylan e sua obra, disse outra frase definitiva:
“Dylan é um homem que passou por muitas das mudanças pelas quais todos nós passamos, e continua mudando; a diferença é que, ao contrário da maioria de nós, ele tem sido capaz de escrever canções sobre o que acontece com ele ao longo de sua evolução.”
Bob Dylan tem 40 anos. Pouco antes de ser assassinado, aos 40 anos, o outro grande gênio da música popular de língua inglesa das duas últimas décadas disse que tinha a vida inteira pela frente. Que estava apenas começando.
Este texto foi publicado no Jornal da Tarde, no dia 23 de maio de 1981, com o título “O homem que transformou o rock em poesia faz 40 anos”.
Os outros textos sobre Bob Dylan neste site:
Dylan Volume 2 – O press-release do disco Infidels
Dylan Volume 3 – Batendo na porta do céu
Dylan Volume 4 – Um gênio que não pára
E também:
Dylan e Joan Baez cantam na Casa Branca as músicas que mudaram os EUA

Que maravilha você nos brindar com este revival do JT. Jornalista antenado é assim. Informação ao alcance das mãos. Valeu!!! Muito obrigada.