16. A igreja
Não devia ser muito grande nem muito rica. Mas forçosamente haveria algum dourado, alguma flor, alguma vela acesa ou luminária pendente de um longo fio, algum vidro colorido, ficava bonito. Tenho a impressão de uma fila de quadrinhos, representando a via sacra, que pinturas maravilhosas! pareciam fotografias! hoje seriam uma vulgar repetição acadêmica no estilo de David, talvez nem tanto.
O que mais me impressionava, todavia, era a estátua daquela mulher. Olhos brilhantes, molhados, cabelos de verdade e um punhal enfiado no peito. A carne do seio, do pequeno pedaço de seio que se mostrava, se abria numa chaga como dois lábios virginais, uma mancha de sangue e o punhal imenso. Nossa Senhora das Dores. Ninguém me explicou que aquele punhal era simbólico, entendi como realidade e talvez já tivesse feito a relação com o defloramento.
Aquela imagem me perseguia, a impressão de tê-la diante de mim é nítida demais e dá para avaliar o horror que me inspirava. Isto foi em 1949 e 1950. Em 1961, onze anos depois, sonhei com aquela estátua. Nua da cintura para cima, tendo no colo o Cristo morto, um tanto ou quanto na posição da Pietá de Michelangelo. Não havia punhal, mas os dois seios se apresentavam cortados horizontalmente. Em 1973, o sonho mudou. A mulher tem uma criança no colo, à semelhança das madonas de Rafael. Nua como a anterior, mas aqui é um quadro. Parado próximo à tela, a estátua muito bela de um sacerdote egípcio com um punhal na mão. A estátua avança para o quadro, eu esboço uma tentativa de impedimento, mas prefiro me deixar assistindo para ver o que vai acontecer. Ele perfura o seio da figura e escorre um filete de sangue vermelho.
Aquela igreja, como todas as outras, até durante algum tempo, me inspirava mais terror do que qualquer outra emoção. Os santos, vestidos de vermelho e com cabelos de gente, me semelhavam cadáveres ressurrectos, ainda verdes, ainda sem movimento. Mas o mais terrível eram aqueles olhos de verdade, brilhantes e penetrantes, olhando para um ponto à sua frente, parados, inflexíveis, ao mesmo tempo eternamente vivos e eternamente mortos.
Sentávamo-nos num banco comprido, balançando os pés empoeirados. Eu vigiava o ambiente, imitando o levantar-se, o ajoelhar-se, o sentar-se. Eu vigiava.
Acho que não íamos muito à igreja; felizmente, para meus sonhos. Desses passeios pesados, não tenho senão duas lembranças. Muito amargas, dois abutres lúgubres que vêm e vão eternamente dentro de mim. Param, me olham um tempo, estremecem e continuam o ir e vir. Teriam estes dois fatos acontecido no mesmo domingo? Tanto faz. A esta altura, tanto faz.
Íamos à missa comum, nenhuma era especialmente rezada para os alunos. Sentávamo-nos mais ou menos amontoados sobre alguns bancos e a cidade ocupava o resto.
Era Ele quem oficiava.
Que diferença faz?, se também existem as missas negras.
Descobri que o menininho da frente comia uma cocada. Estava com o pai, um homem que deixara a seu lado, sobre o banco, um chapéu. Existem, pois, encarcerados eternamente dentro de mim, numa célula-cela da memória, um pai que tem chapéu e um menino que come cocada. Ele comia devagar, pedacinho por pedacinho e a demora era angustiante. Desapareceu tudo ao redor e só passou a haver no universo um pedaço de doce que subia, descia, se escondia, voltava. Branco, irregular, esfarelante. Se ele a tivesse comido numa engolida, limpando as mãozinhas meladas nas calças, a cocada talvez já estivesse apagada dentro de mim e ele também e o pai, com mais motivo ainda. Mas não foi o que aconteceu. Ele, involuntariamente, prosseguia na tortura. Não sabia da salivação aflita. Não sabia da respiração suspensa. Não sabia da vigilância tão próxima.
O menino calçava sapatos e sua roupa era limpinha.
Aqui, minha fantasia me ilude, confunde a consumação do episódio. Ora eu vejo o menino sair com o pai, deixando no banco um pedaço de doce, que eu como. Ora eu vejo, na saída, o homem aproximar-se de mim com um doce na mão, presenteando-me.
Qual. Não deve ter sido nada disto. Quando Ele nos liberou, todos se levantaram, eu tive de sair no meio do tumulto e perdi a visão.
Mas minha fantasia insiste e me mostra também uns farelinhos de coco espalhados sobre o banco, esquecidos.
A outra lembrança, é a do dia da confissão. Estávamos maravilhosamente preparados. As professoras tinham contado de pessoas que não confessavam todos os seus pecados e as hóstias sangravam ou eram vomitadas com insuportável fedor. A mais estranha era a da menininha inocente como ele que queria comungar e não deixaram porque ela era pequena demais e na hora da comunhão a hóstia se desgarrou dos dedos do padre, voou pelo templo e pousou sobre a cabeça do pequenino anjo. Como um espírito santo.
Estávamos maravilhosamente preparados. Preferia que o chão se abrisse e que eu desaparecesse. Tinha horror em pensar que eu poderia esquecer algum pecado, eram tão complicados aqueles pecados…
os pecados mortais são tantos
os pecados capitais são tantos
os pecados veniais são tantos
e havia aquela eumênide silenciosa e grudada na minha alma, a quem chamavam pecado original.
Eu estava maravilhosamente preparado.
Veio a minha vez e eu tropecei até chegar lá. Gaguejei as primeiras palavras e, num relance, enumerei meus horrores
arrancar a cabeça dos grilos
brigar com os amiguinhos
fazer maldades.
Que maldade?
Batia num menino aleijado.
Só?
Rasgava as figurinhas dele, zangava com ele, xingava ele.
O que mais?
Aquela voz me encarcerava. Da voz eu me lembro. Era macia, meio rouca, mas não tinha dono. Era uma voz demoníaca que saía de trás das grades, eu dialogava com a grade.
Eu silenciei e ele perguntou novamente o que mais. O que mais ele queria? Algum pecado mortal? Que eu desonrasse pai e mãe? Que eu cobiçasse a mulher do Próximo?, aquele sujeito desconhecido e de nome tão engraçado!
Eu bato nele, estrago os brinquedos dele.
A grade se calou, mas não me despediu. Comecei a suar frio. O silêncio estava exigindo que eu continuasse, eu precisava de mais pecados!
Matei passarinhos! (Nunca tinha matado passarinhos!)
Xinguei a professora!
Ele continuou calado.
Depois…
Que coisas feias você pensa?
Eu perguntaria a ele hoje, que coisas feias pensa uma criança de sete-oito anos. Filho da puta! Terrorista! Filho da puta!
Terrorista filho da puta!
Os antigos gostavam muito de alegorias. Pintaram a Inocência, a Cólera… Botticelli tem uma Calúnia. Dürer tem uma muito expressiva Melancolia. Alguém teria pintado ou esculpido a Sancta Mater Igreja? Seria essa alegoria como aquela mulher das dores, com o seio-hímem, da forma mais sadomasoquista possível, trespassado por um punhal fálico?
Tento imaginar a alegoria que existiria na cabeça de um menino de 7-8 anos, em função de sua experiência num internato dirigido por um padre. Lembro do filme Roma, de Fellini. No meio da neblina surge uma puta. É uma enorme mulher, se veste de preto. Exibe as mamas imensas, que poderiam ser a redenção para todos os bebês famintos do mundo. Antes de desaparecer de cena, limpa as gengivas com a língua, numa careta… Não! Uma puta pobre? Basta pensar nos tesouros do Vaticano.
Há uma outra, mais ao final do filme. Esta, num bordel de luxo… Não, é melhor abandonar estas imagens, esta, de rosto belíssimo, e a outra, tão humana…
Prefiro imaginar uma bruxa com o seio perfurado, eis que aqui ela encarna a Grande Meretriz do Apocalipse. A que se acha sentada por sobre as águas. Com quem se prostituíram os reis da terra. A Igreja.
garças e abutres chegados da terra do urubu-rei, romance de Jorge Teles, está sendo publicado em capítulos.
.

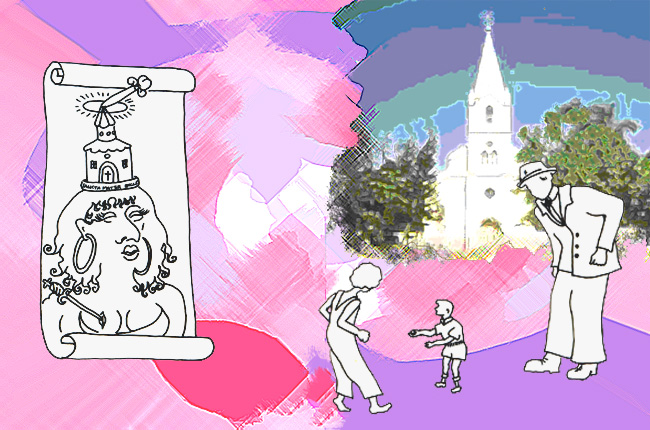
2 Comentários para “garças e abutres chegados da terra do urubu-rei. capítulo 16”