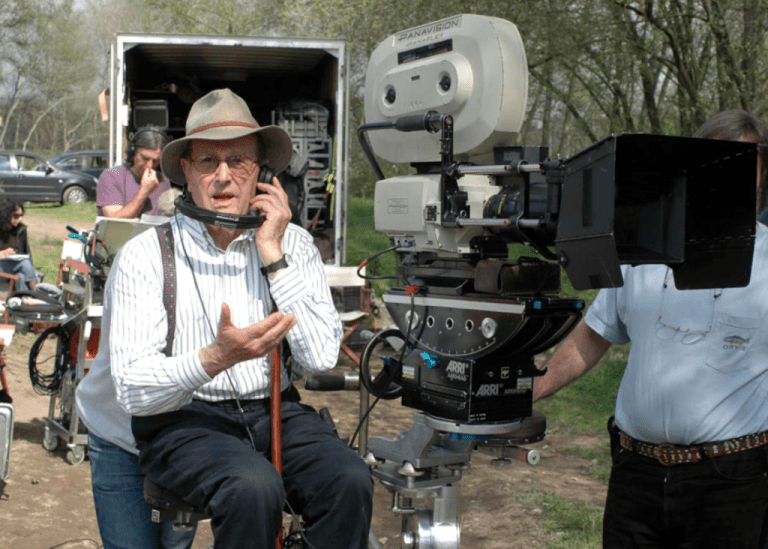O povo não é como Barthes. Se aplaude, o povo aplaude o artista. Conceptualíssimo, o povo negligencia a obra para amar unilateral e exclusivamente o criador e o puro acto da sua criação.
O povo ama no artista a singularidade do louco, a ascese do santo, a inspiração feiticeira. Lembro-me de Manoel de Oliveira a lamber um gelado, 90 anos em corrida para o táxi, à frente da Cinemateca. O homem de rua batia palmas à ágil graça do seu artista. E talvez eu não o tenha visto e tenha sido a Antónia, minha mulher, a vê-lo correr assim, airoso, depois de ele ter estado a fazer-lhe olhinhos de rapapé, do que se penitenciava mandando reverentes protestos de amor por e para mim.
O Tó Costa, que foi dele, e por décadas, sombra e amparo amigo, conta-me que no alvoroçado aeroporto do Porto, sentavam-se para um café, e logo vinham dois, três populares pedir autógrafos, prometendo ver, depois, o filme dele que nunca tinham visto. E nem os polícias lhe multavam o carro mal estacionado, por ser “de um homem extraordinário”.
Já não sei se estive no funeral de Victor Hugo. Quiseram dar-lhe o enterro que são todos os enterros de estado. Mas veio o Povo e pôs uma sentida alegria naquilo tudo. Trocou-se o silêncio de comendas pela algazarra de um milhão de pessoas. A majestosa cabeleira branca, o corpo de estátua, a pança de vate de Victor Hugo eram amados. Nos bordéis, em particular no Le Chabanais, seu favorito, houve luto. Velava-se o corpo no Arco do Triunfo e velavam-no, nessa noite, no Le Chabanais, usando todas as meninas enlutada lingerie negra. Ao funeral, desceram à rua, véu negro cobrindo a parte delas que mais saudosa se sentia.
António Lobo Antunes tem, por vezes, a homérica gentileza de almoçar comigo. Falávamos da guerra colonial e ele do sofrido heroísmo dos seus soldados. Um homem – não existisse este homem e então é que não haveria mesmo povo – veio à mesa, e disse, com uma ternura de menino a seu pai, “quero dar ao António esta prenda”. Pôs em cima da mesa três miniaturas em madeira, dois camiões e um carrinho de mão das obras. Fizera-os ele, serrara-os, polira-os, pregara-os. Era um mimo artesanal, amor derramado no tampo de mesa de uma tasquinha de Lisboa. O senhor Simões, hábil reformado, não disse se lia ou o que lerá um dia, disse apenas: “É porque gosto muito de si.”
Este artigo foi originalmente publicado no jornal português O Expresso.
Manuel S. Fonseca escreve de acordo com a velha ortografia.