A imensa maioria segue um ritmo de produção industrial, linha de montagem, de um LP por ano, ou até mais que isso. Gasta-se, assim, muito vinil para encher as lojas de produtos mal-acabados, francamente dispensáveis ou apenas medíocres. Raríssima exceção a uma regra quase geral, Paul Simon lapida suas obras com o cuidado e a competência de um mestre exigentíssimo. Sempre demonstrou talento, mas jamais foi prolífico. Ao longo de seis anos de existência da dupla Simon & Garfunkel produziu material para cinco LPs. De 1970, ano da separação da dupla, até 1986, lançou apenas seis LPs com composições inéditas. O resultado dessa paciente ourivesaria sempre foi compensador: sua obra está entre o que de mais belo, duradouro, brilhante e perfeito se produziu na música popular. Para entregar ao público Graceland, seu oitavo disco solo em 16 anos de carreira, o perfeccionista Paul Simon trabalhou durante quase três anos. O resultado é um desses discos raros que, já nas primeiras audições, saltam aos ouvidos e emocionam imediatamente como uma obra-prima, um produto absolutamente diferenciado, um marco. E que só cresce e se enriquece com as sucessivas audições. Algo assim como Abbey Road, dos Beatles, ou Desire, de Bob Dylan.
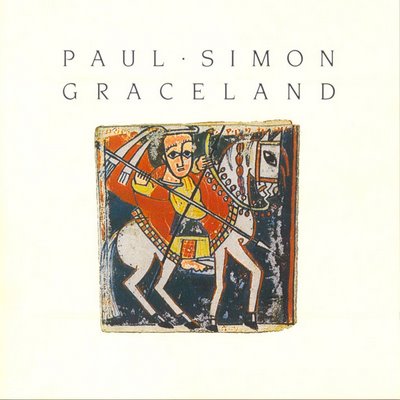 Mas Graceland é ainda mais do que isso. É certamente o mais importante trabalho que qualquer artista do mundo já produziu contra o apartheid, o nojento regime de segregação racial da África do Sul, e a favor da colaboração entre os povos e entre as raças. Gente como Stevie Wonder, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Tim Maia já compôs canções contra o apartheid – e isso é ótimo; um grupo de ilustres nomes do rock e do jazz, incluindo Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lou Reed, Miles Davis e Stanley Jordan, já se uniu em um projeto especialmente para denunciar o absurdo do regime de segregação racial – e isso é ótimo. Paul Simon foi ainda mais fundo. Passou ao largo, muito ao largo, do simples panfleto – só uma música, das 11 de seu LP feito em estreita colaboração com músicos negros da África do Sul, faz referência mais explícita ao apartheid. Ele demonstra, na prática, ao criar uma arte de valor mais durável que todos os panfletos, como não há fronteiras para a beleza, quando se trabalha em harmonia, quando uma cultura influencia a outra, se integra na outra.
Mas Graceland é ainda mais do que isso. É certamente o mais importante trabalho que qualquer artista do mundo já produziu contra o apartheid, o nojento regime de segregação racial da África do Sul, e a favor da colaboração entre os povos e entre as raças. Gente como Stevie Wonder, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Tim Maia já compôs canções contra o apartheid – e isso é ótimo; um grupo de ilustres nomes do rock e do jazz, incluindo Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lou Reed, Miles Davis e Stanley Jordan, já se uniu em um projeto especialmente para denunciar o absurdo do regime de segregação racial – e isso é ótimo. Paul Simon foi ainda mais fundo. Passou ao largo, muito ao largo, do simples panfleto – só uma música, das 11 de seu LP feito em estreita colaboração com músicos negros da África do Sul, faz referência mais explícita ao apartheid. Ele demonstra, na prática, ao criar uma arte de valor mais durável que todos os panfletos, como não há fronteiras para a beleza, quando se trabalha em harmonia, quando uma cultura influencia a outra, se integra na outra.
Com o Terceiro Mundo
São bem antigas as ligações desse músico nascido há 45 anos em Newark, Nova Jérsei, filho de uma família judia de classe média, com os sons do Terceiro Mundo. Há flautas e charango andinos em El Condor Pasa, em Bridge Over Troubled Water, o último disco gravado em estúdio pela dupla Simon & Garfunkel, em 1970, assim como no primeiro LP individual, Paul Simon, de 1972, e no LP gravado ao vivo Live Rhymin’, de 1974. Ainda no seu primeiro LP solo, namorou os ritmos negros do Caribe; uma faixa foi gravada em Kingston, de onde o reggae estourava para o mundo. O percursionista Sivuca participou do LP Still Crazy after All these Years, de 1975, e Airto Moreira tocou em três LPs do compositor. Já em 1969 ele havia estado no Brasil, para presidir o júri do Festival Internacional da Canção (causou faniquitos entre as autoridades da ditadura, na época, a camiseta com o rosto de Che Guevara que sua mulher usava, ao desembarcar no Galeão).
A mesma desenvoltura demonstrada em relação à música do Terceiro Mundo, Paul Simon sempre exibiu trafegando à vontade por todos os territórios da música de seu país. Ouviu e fez rock’n’roll na década de 50, com seu amigo e vizinho Art Garfunkel, com quem formou a dupla Tom & Jerry nos bailinhos de escola e pequenos clubes. Chegou ao disco profissional (havia gravado antes como Tom & Jerry, mas não existem mais registros dessas experiências juvenis) seguindo a tradição folk, a música branca popular que tomou conta da cena americana no começo dos anos 60. Gravou depois com grupos negros de gospel e blues. Visitou o som do jazz primitivo de Nova Orleans. Foi influenciado pelo som country dos Everly Brothers dos anos 50 e 60, assim como pelo rock negro de conjuntos dos anos 50 como The Five Satins ou The Moonglows. Vinte anos antes de Sting, Paul Simon já utilizava músicos de jazz em seus discos; Stephanie Grapelli e Toots Thielemans, por exemplo, já tocaram com ele. Colaborou com o grande compositor minimalista Philip Glass. A ausência total de fronteiras o levou à música negra da África do Sul.
Em Johanesburgo
 Ele próprio conta a história na contracapa de Graceland. Em meados de 1984 ganhou de um amigo uma gravação em fita de um disco chamado Gumboots Accordion Jive Hits, Volume II. Parecia vagamente o rock’n’roll feito nos anos 50 por alguns conjuntos do Sul dos Estados Unidos. “Era uma música muito pra cima, muito alegre – soava familiar e estranho, ao mesmo tempo”. Era música popular de Soweto, a cidade-dormitório negra próxima a Johanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Através da sua gravadora, a Warner, e de um produtor de discos radicado na África do Sul, recebeu de lá cerca de 20 discos, “cobrindo o espectro da música negra desde a tradicional até o funk”. No começo de 1985, ele e seu velho colaborador, o engenheiro de som Roy Halee – os dois trabalhavam juntos desde Bookends, de 1968 –, viajaram para Johanesburgo, onde ficaram duas semanas e meia trabalhando em estúdio com diversos grupos musicais negros.
Ele próprio conta a história na contracapa de Graceland. Em meados de 1984 ganhou de um amigo uma gravação em fita de um disco chamado Gumboots Accordion Jive Hits, Volume II. Parecia vagamente o rock’n’roll feito nos anos 50 por alguns conjuntos do Sul dos Estados Unidos. “Era uma música muito pra cima, muito alegre – soava familiar e estranho, ao mesmo tempo”. Era música popular de Soweto, a cidade-dormitório negra próxima a Johanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Através da sua gravadora, a Warner, e de um produtor de discos radicado na África do Sul, recebeu de lá cerca de 20 discos, “cobrindo o espectro da música negra desde a tradicional até o funk”. No começo de 1985, ele e seu velho colaborador, o engenheiro de som Roy Halee – os dois trabalhavam juntos desde Bookends, de 1968 –, viajaram para Johanesburgo, onde ficaram duas semanas e meia trabalhando em estúdio com diversos grupos musicais negros.
Voltaram a Nova York com diversas fitas gravadas pelos conjuntos sul-africanos. Não eram canções; eram exercícios, improvisações – as bases. “No passado”, disse Simon, “meu estilo típico de compor uma canção era o de ficar sentado com um violão, escrever a música, acabá-la, ir para o estúdio, pegar os músicos, mostrar a canção e os acordes e depois gravar. Com esses músicos, passei a fazer o caminho inverso. As gravações antecederam as canções. Nós trabalhávamos improvisando. Enquanto um grupo ia tocando no estúdio, eu cantava melodias e palavras – qualquer coisa que se encaixasse na escala, na qual eles estavam tocando.” O processo de compor as canções em cima das bases anteriormente gravadas se deu já de volta a Nova York, para onde, em seguida, Simon chamou três músicos que haviam tocado com ele em Johanesburgo: o guitarrista Chikapa Ray Phiri, o baterista Isaac Mtshali e o baixista Baghiti Khumalo. Em Nova York foram feitas novas gravações. O processo todo incluiu ainda sessões no Abbey Road, de Londres, e em um estúdio de Los Angeles.
Fusão
O resultado da colaboração estreita entre Paul Simon e os músicos sul-africanos é uma fascinante fusão de elementos absolutamente díspares. Simon é um poeta de letras bem cuidadas, buriladas ao extremo, sem nenhuma palavra sobrando, cheias de imagens absolutamente modernas, urbanas. Sua música é refinadíssima, estudada, incorporando o que de melhor existe no jazz e na música instrumental contemporânea. A música de seus colaboradores sul-africanos é forte, simples, às vezes quase primitiva, pulsante de ritmo agressivamente marcado. Graceland é a mistura total, a miscigenação desses pólos contrários.
O som é, como dizia o próprio Simon ao ouvir pela primeira vez a música sul-africana, muito pra cima, muito alegre. Canções como I know what I know (parceria Paul Simon-General M. D. Shrinda), Diamonds on the Soles of her Shoes (Paul Simon, com introdução em parceria com Joseph Shabalala) e You Can Call me Al são irresistíveis em seu balanço delicioso. (Quem quiser achar, na letra de Diamonds on the Soles of her Shoes, uma segunda leitura falando da situação de um país riquíssimo que esmaga na miséria a imensa maioria do seu povo, pode, é claro. Quem quiser pode, na mesma música, reparar que maravilhosíssimo cantor é Paul Simon, com uma voz inteiramente maleável, algo como talvez só Caetano Veloso.)
Em Under African Skies, Simon faz referências à infância de sua amiga Linda Ronstatd e a Joseph Shabalala, o cantor principal do conjunto vocal Ladysmith Black Manbazo. E, Linda Ronstatd, o cantor brinda nossos ouvidos com um dos mais belos duetos da música popular americana, algo como talvez só os duetos Bob Dylan-Emmylou Harris em Desire ou Neil Young-Nicolette Larson em Comes a Time.
O clima sonoro pra cima e alegre no LP só faz uma pausa na parceria Paul Simon-Joseph Shabalala de Homeless, a tal única das 11 canções do disco que remete mais diretamente ao apartheid. (Simon é um letrista cada vez mais sutil, falando muito mais nas entrelinhas do que abertamente nos versos). A música é cantada em inglês e em zulu, por Simon e pelo Ladysmith Black Manbazo de Joseph Shabalala, sem qualquer instrumentação, inteiramente à capella. É um lamento belíssimo que remete às canções religiosas negras, dos spirituals aos benditos.
A ponte África do Sul Nova York de Paul Simon passa ainda, nas duas faixas finais de Graceland, pela música das minorias americanas. O ponto mais visível de união é o acordeom – presente em várias das faixas gravadas com músicos sul-africanos e também nas duas faixas finais. That Was your Mother foi gravada em um pequeno estúdio da Louisiana com o grupo Good Rockin’ Dopsie and the Twisters, um conjunto que mantém a tradição do cajun, a música folclórica da minoria de língua francesa daquele Estado do Sul. All around the World or the Myth of Fingerprints foi gravada em Los Angeles com Los Lobos, um grupo de rock formado por chicanos, os imigrantes mexicanos.
Mas as maiores obras-primas desse disco em que não há pontos baixos são exatamente as duas primeiras, The Boy in the Bubble e Graceland. Em Graceland, os músicos sul-africanos produzem um som que remete inequivocadamente à música country americana. Simon chamou para os vocais nada menos que os Everly Brothers, o duo cujas harmonias influenciaram profundamente o estilo de cantar da dupla Simon & Garfunkel. O aluno que foi muito além dos mestres lhes rende homenagem. Graceland – “terra da graça”; ou, como sabem muito bem todos os fãs de Elvis Presley, a mansão do cantor, agora transformada em santuário para sua adoração, em Memphis, Tennesse – permite que Simon exercite sua fina ironia e suave amargura ao falar do fim de um caso de amor.
The Boy in the Bubble é o resumo, a súmula de Graceland, o LP. À frente do som poderoso, fortíssimo, básico, dos músicos africanos – a introdução do acordeom é, literalmente de arrepiar – , o artista despeja imagens vertiginosas, na velocidade de um míssil, na velocidade das telecomunicações neste fim de século: terroristas soltam bombas, multidões morrem de fome e sede, cada geração joga um herói no alto das paradas de sucesso, a mágica medicina cria crianças em bolhas e bota coração de macaco em bebês, e há raios laser na selva, e podemos ver constelações distantes morrendo num canto do céu, tudo sob o olhar constante da câmara de TV que segue todos os nossos movimentos em slow motion. “São dias de milagre e assombro” – porque neste fim de século, convivemos todos com a Idade Média e, se há raios laser na selva e crianças em bolhas ou com coração de macaco, ainda não se encontrou remédio para pequenas tragédias como a gripe, nem para tragédias gigantescas como a miséria, a fome, o racismo.
A historinha atrás do texto
Era trabalho demais, na revista Afinal. A revista teve vida curta: foi lançada em 1984 e fechou – por falta de grana – em 1988. Trabalhei lá desde a criação da revista até meados de 1988; saí pouco antes de a revista acabar.
A revista foi invenção de um cubano exilado, uma figuraça, um tal de Gustavo Cubas, sujeito doidinho de pedra, meio visionário, meio louco varrido mesmo. O cara tinha dinheiro, era dono de uma agência de publicidade, achava que em um ano sua revista – uma semanal de informação menos sisuda do que a Veja, com reportagens agradáveis que atraíssem leitores da Manchete (ela ainda existia, e ainda não havia as Caras, Quem, etc)) seria um grande sucesso, estaria com um monte de anunciantes e rendendo uma nota preta.
Bem, não foi um grande sucesso, não teve um monte de anunciantes (a Editora Abril bancou a revista Veja no vermelho durante muitos anos, antes que a revista passasse a se pagar, muito antes de virar o fenômeno que virou), e o dinheiro do cubano começou a acabar um ano depois do lançamento da revista. Quando os salários começaram a atrasar, vários dos ótimos profissionais que Fernando Mitre havia levado para lá foram saindo, procurando outros empregos. Ficaram os que não tinham outras propostas de emprego e os que curtiam a experiência – era um ambiente sensacional, a redação da Afinal – e tinham alguma poupança que garantia o pagamento das contas.
Eu editava Cultura, mas mais para o fim da revista ajudava também em outras editorias. Era muita página para fechar; ficávamos na redação nunca menos de oito horas por dia, e muitas vezes dez ou mais. Mesmo assim – e hoje não consigo entender como – eu ainda arranjava tempo para, de vez em quando, produzir alguns textos eu mesmo. Não porque eu quisesse, mas porque não tinha outra pessoa para produzi-los. Fiz algumas matérias sobre filmes importantes, sobre os quais a revista não poderia deixar de escrever – Os Intocáveis, A Cor Púrpura, O Império do Sol, Um Homem, Uma Mulher Vinte Anos Depois. (O grande Geraldo Mayrink escrevia sobre filmes na revista, e ele ficou quase até o fim, mas havia semanas em que estava fazendo outras coisas, e aí eu partia para a jornada dupla, ou tripla.) Quando saiu o disco Graceland, me senti na obrigação de escrever sobre ele.
Me pergunto hoje se os dias, naquela época em que eu estava com uns 35, 37 anos, eram mais longos, tinham mais horas.
Ah, sim, mas o que eu realmente queria contar é que, depois que terminei o texto, levei para o Sandro Vaia, que havia assumido a direção de redação com a saída do Fernando Mitre, dar uma olhada. Ele se assustou com o olhinho, a linha fina abaixo do título: “Paul Simon faz um dos melhores discos da história”. Naquela época, já fazia 17 anos que eu trabalhava junto com o Sandro, e ele sempre questionava meus superlativos. Questionou de novo, perguntou se daquela vez eu não estava exagerando demais. Garanti de pé junto que não era exagero.
Ainda hoje acho que eu estava certo.

7 Comentários para “Raios laser na selva”